
SOBRE A VERDADE E MENTIRA NO SENTIDO EXTRA-MORAL
Friedrich Nietzsche
1
No desvio de algum rincão do universo inundado pelo fogo de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um planeta no qual os animais inteligentes inventaram o conhecimento. Este foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da “história universal”, mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram de morrer.
Esta é a fábula que se poderia inventar, sem com isso chegar a iluminar suficientemente o aspecto lamentável, frágil e fugidio, o aspecto vão e arbitrário dessa exceção que constitui o intelecto humano no seio da natureza. Eternidades passaram sem que ele existisse; e se ele desaparecesse novamente, nada se teria passado; pois não há para tal intelecto uma missão que ultrapasse o quadro de uma vida humana. Ao contrário, ele é humano e somente seu possuidor e criador o trata com tanta paixão, como se ele fosse o eixo em torno do qual girasse o mundo. Se pudéssemos entender a mosca, perceberíamos que ela navega no ar animada por essa mesma paixão e sentindo em si que voar é o centro do mundo. Nada há de tão desprezível e de tão insignificante na natureza que não transborde como um odre ao menor sopro dessa força do conhecer, e assim como todo carregador quer também ter o seu admirador, o homem mais arrogante, o filósofo, imagina ter também os olhos do universo focalizados, como um telescópio, sobre suas obras e seus pensamentos. É admirável que o intelecto seja responsável por esta situação, ele a quem todavia não foi dado senão servir precisamente como auxiliar dos seres mais desfavorecidos, mas vulneráveis e mais efêmeros, a fim de mantê-los na vida pelo espaço de um minuto — existência da qual eles teriam todo o direito de fugir, tão rapidamente como o filho de Lessing, não fosse esta ajuda recebida. Este orgulho ligado ao conhecimento e à percepção, névoa que cega o olhar e os sentidos do homem, engana-os sobre o valor da existência, exatamente quando vem acompanhada da avaliação mais lisonjeira possível com relação ao conhecimento. O seu efeito mais comum é a ilusão; mas seus efeitos mais particulares implicam também qualquer coisa da mesma ordem.
O intelecto, enquanto meio de conservação do indivíduo, desenvolve o essencial de suas forças na dissimulação, pois esta é o meio de conservação dos indivíduos mais fracos e menos robustos, na medida em que lhe é impossível enfrentar uma luta pela existência munidos de chifres ou das poderosas mandíbulas dos animais carnívoros. É no homem que esta arte da dissimulação atinge o seu ponto culminante: a ilusão, a lisonja, a mentira e o engano, a calúnia, a ostentação, o fato de desviar a vida por um brilho emprestado e de usar máscaras, o véu da convenção, o fato de brincar de comediante diante dos outros e de si mesmo, em suma, o gracejo perpétuo que em todo lugar goza unicamente com o amor da vaidade, são nele a tal ponto a regra e a lei, que quase nada é mais inconcebível do que o aparecimento, nos homens, de um instinto de verdade honesto e puro. Eles estão profundamente mergulhados nas ilusões e nos sonhos, seu olhar somente desliza sobre a superfície das coisas e vê apenas as “formas”, sua percepção não leva de maneira nenhuma à verdade, mas se limita a receber as excitações e a andar como que às cegas no dorso das coisas. Além disso, durante a vida toda, o homem se deixa enganar à noite pelos sonhos, sem que jamais o seu sentido moral procure impedi-lo disso, embora deva haver homens que, por força da vontade, tiveram sucesso em se livrar do ronco. Mas o que sabe o homem, na verdade, de si mesmo? E ainda, seria ele sequer capaz de se perceber a si próprio, totalmente de boa-fé, como se estivesse exposto numa vitrine iluminada? A natureza não lhe dissimula a maior parte das coisas, mesmo no que concerne a seu próprio corpo, a fim de mantê-lo prisioneiro de uma consciência soberba e enganadora, afastado das tortuosidades dos intestinos, afastado do curso precipitado do sangue nas veias e do complexo jogo de vibrações das fibras? Ela atirou fora a chave; e infeliz da curiosidade fatal que chegar um dia a entrever por uma fresta o que há fora desta cela que é a consciência e aquilo sobre o que ela está assentada, e descobrir então que o homem repousa, a despeito da sua ignorância, sobre um fundo impiedoso, ávido, insaciável e mortífero, agarrado a seus sonhos assim como ao dorso de um tigre. Nessas condições, haveria no mundo um lugar de onde pudesse surgir o instinto de verdade?
No estado de natureza, na medida em que o indivíduo quer conservarse diante dos outros indivíduos, ele não utiliza sua inteligência o mais das vezes senão com fins de dissimulação. Mas, na medida em que o homem, ao mesmo tempo por necessidade e por tédio, quer viver em sociedade e no rebanho, necessário lhe é concluir a paz e, de acordo com este tratado, fazer de modo tal que pelo menos o aspecto mais brutal do bellum omnium contra omnes desapareça do seu mundo. Ora, este tratado de paz fornece algo como um primeiro passo em vista de tal enigmático instinto de verdade. De fato, aquilo que daqui em diante deve ser a “verdade” é então fixado, quer dizer, é descoberta uma designação uniformemente válida e obrigatória das coisas, e a legislação da linguagem vai agora fornecer também as primeiras leis da verdade, pois, nesta ocasião e pela primeira vez, aparece uma oposição entre verdade e mentira. O mentiroso utiliza as designações pertinentes, as palavras, para fazer parecer real o que é irreal; ele diz por exemplo: “eu sou rico”, ainda que, para qualificar sua condição, fosse justamente a palavra “pobre” a designação mais correta. Ele mede as convenções estabelecidas, operando substituições arbitrárias ou mesmo invertendo os nomes. Se age assim de maneira interessada e demasiadamente prejudicial, a sociedade não lhe dará mais crédito e, por causa disso, o excluirá. Nesse caso, os homens fogem menos da mentira do que do prejuízo provocado por uma mentira. Fundamentalmente, não detestam tanto as ilusões, mas as conseqüências deploráveis e nefastas de certos tipos de ilusão. É apenas nesse sentido restrito que o homem quer a verdade. Deseja os resultados favoráveis da verdade, aqueles que conservam a vida; mas é indiferente diante do conhecimento puro e sem conseqüência, e é mesmo hostil para com as verdades que podem ser prejudiciais e destrutivas. Mas, por outro lado, o que são as convenções da linguagem? São produtos eventuais do conhecimento e do sentido da verdade? Coincidem as coisas e suas designações? É a linguagem a expressão adequada de toda e qualquer realidade?
Somente graças à sua capacidade de esquecimento é que o homem pode chegar a imaginar que possui uma verdade no grau que nós queremos justamente indicar. Se ele recusa contentar-se com uma verdade na forma de tautologia, quer dizer, como cascas vazias, ele tomará eternamente ilusões por verdades. O que é uma palavra? A transposição sonora de uma excitação nervosa. Mas, concluir a partir de uma excitação nervosa uma causa primeira exterior a nós, isso é já até onde chega uma aplicação falsa e injustificável do princípio da razão. Se a verdade tivesse sido o único fator determinante na gênese da linguagem e se o ponto de vista da certeza o fosse quanto às designações, como teríamos então o direito de dizer, por exemplo, que “esta pedra é dura”, como se conhecêssemos o sentido de “duro” de outro modo que não fosse apenas uma excitação totalmente subjetiva? Classificamos as coisas segundo os gêneros, designamos l’arbre como masculino e a planta como feminino: que transposições arbitrárias! A que ponto estamos afastados do cânone da certeza!
Falamos de uma serpente: a designação alcança somente o fato de se contorcer, o que poderia convir igualmente ao verme. Que delimitações arbitrárias, que parcialidade é preferir ora uma ora outra propriedade de uma coisa! As diferentes línguas, quando comparadas, mostram que as palavras nunca alcançam a verdade, nem uma expressão adequada; se fosse assim, não haveria efetivamente um número tão grande de línguas. A “coisa em si”, como sendo precisamente a verdade pura e sem conseqüência, enquanto objeto para aquele que cria uma linguagem, permanece totalmente incompreensível e absolutamente indigna de seus esforços. Esta designa somente as relações entre os homens e as coisas e para exprimi-las ela pede o auxílio das metáforas mais audaciosas. Transpor uma excitação nervosa numa imagem! Primeira metáfora. A imagem por sua vez é transformada num som! Segunda metáfora. A cada vez, um salto completo de uma esfera para outra completamente diferente e nova. Imaginemos um homem que seja totalmente surdo e que jamais tenha percebido o som e a música: da mesma maneira que ele sem dúvida se espanta com as figuras acústicas de Chladni feitas de areia e descobre sua causa na vibração das cordas, jurará então por esta descoberta que não poderá ignorar daí por diante o que os homens chamam de som, assim como ocorre com todos nós no que concerne à linguagem. Acreditamos possuir algum saber sobre as coisas propriamente, quando falamos de árvores, cores, neve e flores, mas não temos entretanto aí mais do que metáforas das coisas, as quais não correspondem absolutamente às entidades originais. Assim como o som enquanto figura de areia, também o x enigmático da coisa em si é primeiramente captada como excitação nervosa, depois como imagem, afinal como som articulado. A gênese da linguagem não segue em todos os casos uma via lógica, e o conjunto de materiais que é por conseguinte aquilo sobre o que e com a ajuda de quem o homem da verdade, o pesquisador, o filósofo, trabalha e constrói, se não provém de Sírius, jamais provém em todo caso da essência das coisas.
Pensemos ainda uma vez, particularmente, na formação dos conceitos: toda palavra se torna imediatamente conceito, não na medida em que ela tem necessariamente de dar de algum modo a idéia da experiência original única e absolutamente singular a que deve o seu surgimento, mas quando lhe é necessário aplicar-se simultaneamente a um sem-número de casos mais ou menos semelhantes, ou seja, a casos que jamais são idênticos estritamente falando, portanto a casos totalmente diferentes. Todo conceito surge da postulação da identidade do não-idêntico. Assim como é evidente que uma folha não é nunca completamente idêntica à outra, é também bastante evidente que o conceito de folha foi formado a partir do abandono arbitrário destas características particulares e do esquecimento daquilo que diferencia um objeto de outro. O conceito faz nascer a idéia de que haveria na natureza, independentemente das folhas particulares, algo como a “folha”, algo como uma forma primordial, segundo a qual todas as folhas teriam sido tecidas, desenhadas, cortadas, coloridas, pregueadas, pintadas, mas por mãos tão inábeis que nenhum exemplar teria saído tão adequado ou fiel, de modo a ser uma cópia em conformidade com o original. Dizemos de um homem que ele é honesto; perguntamos a nós mesmos porque ele agiu hoje tão honestamente. Respondemos geralmente que foi por causa da sua honestidade. Honestidade! Isto significa novamente dizer que a folha é a causa das folhas. Não sabemos mesmo absolutamente nada de uma qualidade essencial chamada honestidade, no entanto conhecemos inumeráveis ações individualizadas e por conseguinte dessemelhantes, mas que postulamos como idênticas ao deixarmos de lado o que as torna diferentes; assim, designamos as ações honestas a partir das quais afinal formulamos uma qualitas occulta com o termo: a honestidade.
A omissão do particular e do real nos dá o conceito, assim como nos dá a forma, contrariamente ao que revela a natureza, que não conhece formas ou conceitos e portanto nenhum gênero, mas somente um x para nós inacessível e indefinível. Pois a oposição que introduzimos entre o indivíduo e a espécie é também antropomórfica e não provém da essência das coisas, mesmo quando ousamos dizer que esta oposição não corresponde à essência das coisas; pois isto seria de fato uma afirmação dogmática e, enquanto tal, tão indemonstrável quanto a afirmação contrária.
O que é portanto a verdade? Uma multidão móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos; em resumo, uma soma de relações humanas que foram realçadas, transpostas e ornamentadas pela poesia e pela retórica e que, depois de um longo uso, pareceram estáveis, canônicas e obrigatórias aos olhos de um povo: as verdades são ilusões das quais se esqueceu que o são, metáforas gastas que perderam a sua força sensível, moeda que perdeu sua efígie e que não é considerada mais como tal, mas apenas como metal.
Não sabemos ainda todavia de onde provém o instinto de verdade, pois até agora só temos falado do constrangimento que a sociedade impõe como condição da existência: é necessário ser verídico, quer dizer, empregar metáforas usuais; portanto, nos termos da moral, só temos falado da obrigação de mentir segundo uma convenção estabelecida, mentir como rebanho e num estilo obrigatório para todos. Na verdade, o homem esquece que é assim que se passam as coisas. Ele mente portanto inconscientemente, tal como indicamos, conformando-se a costumes seculares... e é mesmo por intermédio dessa inconsciência, desse esquecimento, que ele chega ao sentimento da verdade. Ao experimentar o sentimento de estar obrigado a designar uma coisa como vermelha, outra como fria, uma terceira como muda, ele é seduzido por um impulso moral que o orienta para a verdade e, em oposição ao mentiroso a que ninguém dá crédito e que todos excluem, o homem é persuadido da dignidade, da confiança e da utilidade da verdade. Enquanto ser racional, deve agora submeter seu comportamento ao poder das abstrações; não suporta mais ser levado pelas impressões súbitas e pelas intuições, mas generaliza em primeiro lugar todas as impressões em conceitos mais frios e mais exangües, a fim de atrelar neles a condução da sua vida e do seu agir.
Tudo o que eleva o homem acima do animal depende dessa capacidade de fazer desaparecer as metáforas intuitivas num esquema ou, em outras palavras, dissolver uma imagem num conceito. Sob o domínio desses esquemas, é possível ser bem sucedido em relação àquilo que jamais se alcançaria submetido às primeiras impressões intuitivas: edificar uma pirâmide lógica ordenada segundo divisões e graus, instaurar um novo mundo de leis, privilégios, subordinações e delimitações, que se opõe desde logo ao outro mundo, o mundo intuitivodas primeiras impressões, como sendo aquele melhor estabelecido, mais geral, melhor conhecido, mais humano e, por esta razão, como uma instância reguladora e imperativa. Enquanto toda metáfora da intuição é particular e sem igual, escapando sempre portanto à qualquer classificação, o grande edifício dos conceitos apresenta a estrita regularidade de um columbário romano, edifício de onde emana aquele rigor e frieza da lógica que são próprios das matemáticas. Aquele que estivesse impregnado desta frieza hesitaria em crer que mesmo o conceito — duro como o osso e cúbico como um dado e como ele intercambiável — acabasse por ser somente o resíduo de uma metáfora e que a ilusão própria a uma transposição estética de uma excitação nervosa em imagens, se não era a mãe, era entretanto a avó de tal conceito. Mas nesse jogo de dados dos conceitos, chama-se “verdade” o fato de se utilizar cada dado segundo a sua designação, de computar exatamente seus pontos, de formular rubricas corretas e de jamais pecar contra o ordenamento das divisões ou contra a série ordenada das classificações. Assim como os romanos e os etruscos dividiram o céu segundo linhas matemáticas estritas e destinaram este espaço assim delimitado para templum de um deus, assim também todo povo possui um céu conceitual semelhante a que está adstrito; a exigência da verdade significa então para ele que todo conceito, a exemplo de um deus, somente deve ser procurado na sua própria esfera. Bem poderíamos, a respeito disso, admirar o homem pelo fato de ser ele um poderoso gênio da arquitetura: ele conseguiu erigir uma catedral conceitual infinitamente complicada sobre fundações movediças, de qualquer maneira sobre água corrente. Na verdade, para encontrar um ponto de apoio em tais fundações, precisa-se de uma construção semelhante às teias de aranha, tão fina que possa seguir a corrente da onda que a empurra, tão resistente que não se deixe despedaçar à mercê dos ventos. Enquanto gênio da arquitetura, o homem supera em muito a abelha: esta constrói com a cera que recolhe da natureza, o homem o faz com a matéria bem mais frágil dos conceitos que é obrigado a fabricar com seus próprios meios. Nisso, o homem é bem digno de ser admirado — mas não por seu instinto de verdade ou pelo conhecimento puro das coisas. Se alguém esconde algo atrás de uma moita e depois a procura exatamente nesse lugar acabando por encontrá-la aí, não há nenhum motivo para a glorificação dessa procura e dessa descoberta.
Mas é todavia isso o que ocorre com a procura e a descoberta da “verdade” no domínio que concerne à razão. Quando dou a definição de mamífero e quando, depois de ter examinado um camelo, declaro: eis aqui um mamífero, isto é certamente uma verdade que vem à luz, mas o seu valor é limitado; quero dizer com isso que ela é em tudo uma definição antropomórfica e que não contém qualquer coisa que seja “verdade em si”, real e universal, independentemente do homem. Aquele que se põe à busca de tais verdades, no fundo procura somente a metamorfose do mundo no homem; luta para alcançar uma compreensão do mundo enquanto coisa humana e conquista no melhor dos casos o sentimento de uma assimilação. Semelhante a um astrólogo, aos olhos de quem as estrelas estão a serviço dos homens e relacionadas com sua felicidade ou infelicidade, um tal pesquisador considera o mundo inteiro como estando ligado aos homens, como o eco sempre deformado de uma voz primordial do homem, como a cópia multiplicada e diversificada de uma imagem primordial do homem. Seu método consiste no seguinte: considerar o homem como medida de todas as coisas; porém, assim fazendo, parte do erro que consiste em acreditar que as coisas lhe seriam dadas imediatamente enquanto puros objetos. Ele esquece portanto que as metáforas originais da intuição são já metáforas, e as toma pelas coisas mesmas.
Foi somente o esquecimento desse mundo primitivo das metáforas, foi apenas a cristalização e a esclerose de um mar de imagens que surgiu originariamente como uma torrente escaldante da capacidade original da imaginação humana, foi unicamente a crença invencível em que este sol, esta janela, esta mesa são verdades em si, em suma, foi exclusivamente pelo fato de que o homem esqueceu que ele próprio é um sujeito e certamente um sujeito atuante criador e artista, foi isto que lhe permitiu viver beneficiado com alguma paz, com alguma segurança e com alguma lógica. Se ele pudesse por um instante transpor os muros desta crença que o aprisiona, adquiriria imediatamente a “consciência de si”. Já lhe custa bastante reconhecer até que ponto o inseto ou o pássaro percebem o mundo de uma maneira totalmente diferente do homem, e confessar que a questão de saber qual das duas percepções é a mais justa é completamente absurda, já que para respondê-la precisaria em primeiro lugar que se as medisse segundo o critério da percepção justa, quer dizer, segundo um critério do qual não se dispõe. Mas me parece sobretudo que a percepção justa — que significaria a expressão adequada de um objeto num sujeito — é um absurdo pleno de contradições: pois, entre duas esferas absolutamente distintas como são o sujeito e o objeto, não há qualquer laço de causalidade, qualquer exatidão, qualquer expressão possíveis, mas, antes de mais nada, uma relação estética, quer dizer, no sentido que dou, uma transposição aproximativa, uma tradução balbuciante numa língua totalmente estranha. Contudo, isto exigiria em todo caso uma esfera intermediária e uma força auxiliar onde a criação e a descoberta pudessem operar livremente. A palavra fenômeno esconde muitas seduções; eis porque eu evito empregá-la o mais que posso, pois não é verdade que a essência das coisas se manifeste no mundo empírico. Um pintor que fosse maneta e quisesse exprimir pelo canto o quadro que ele projeta pintar dirá sempre mais, passando de uma esfera a outra, do que revela o mundo empírico sobre a essência das coisas. A própria relação entre uma excitação nervosa e a imagem produzida não é em si nada de necessário; mas se precisamente esta mesma imagem for reproduzida milhões de vezes e se inúmeras gerações de homens deixam-na de herança, enfim, sobretudo se ela aparece ao conjunto da humanidade sempre nas mesmas circunstâncias, ela acaba por adquirir, para o homem, a mesma significação como se ela fosse a única imagem necessária e como se esta relação entre a excitação nervosa de origem e a imagem produzida fosse uma relação de estrita causalidade. Assim também, um sonho eternamente repetido seria experimentado e julgado como absolutamente real. Mas a cristalização e a esclerose de uma metáfora não daria nenhuma garantia quanto à necessidade e à legitimidade exclusiva desta metáfora.
Todo homem familiarizado com tais considerações experimentou evidentemente uma desconfiança profunda a respeito de todo idealismo desse tipo, a cada vez que se mostrou claramente persuadido pela lógica, pela universalidade e pela infalibilidade eternas das leis da natureza, e disso tirou a seguinte conclusão: aí tudo é certo, elaborado, infinito, regrado, desprovido de falha até onde pode levar o nosso olhar — graças ao telescópio apontado para as alturas do mundo e graças ao microscópio dirigido para as suas profundezas. A ciência terá sempre material para explorar com êxito este poço e tudo quanto ela puder encontrar concordará sem se contradizer. Quão pouco se assemelha isto a um produto da imaginação, pois, se assim o fosse, seria todavia necessário que algo da ilusão e da irrealidade que lhe são próprias se revelasse. Ao contrário, é preciso dizer primeiramente o seguinte: se tivéssemos em cada parte nossa uma percepção sensível de natureza diferente, poderíamos perceber ora como um pássaro, ora como um verme de terra, ora como uma planta; ou, se um de nós percebesse uma excitação visual como vermelha, se outro a percebesse como azul ou se, para um terceiro, fosse uma excitação auditiva, ninguém diria que a natureza é regida por leis, mas contrariamente a conceberíamos somente como uma construção altamente subjetiva. Assim: o que é então para nós uma lei da natureza? Ela não nos é conhecida em si, mas apenas nos seus efeitos, ou seja, nas suas relações com outras leis da natureza que, por sua vez, somente são conhecidas enquanto relações. Portanto todas as relações nada fazem senão remeter-se umas às outras e nos são absolutamente incompreensíveis quanto à sua essência. Unicamente o que aí colocamos, o tempo e o espaço, quer dizer, as relações de sucessão e os números, nos é realmente conhecido. Mas tudo o que precisamente nos surpreende nas leis da natureza, que reclama nossa análise e que poderia nos levar à desconfiança do idealismo, reside de fato e unicamente no rigor matemático, unicamente na inviolabilidade das representações do tempo e do espaço, e não em outro lugar. Ora, produzimo-las em nós e projetamo-las fora de nós segundo a mesma necessidade que leva a abelha a tecer sua teia. Se somos obrigados a conceber todas as coisas apenas sob tais formas, então não há nada de admirável em captar sob estas mesmas formas o que verdadeiramente procuramos nas coisas. De fato, todas elas necessariamente se referem às leis do número, e o número é justamente o que há de mais surpreendente nas coisas. Toda presença das leis que se nos impõe sobre o curso dos astros e sobre os processos químicos coincide no fundo com aquelas propriedades que acrescentamos às coisas para assim darmo-nos respeito a nós mesmos. Disso resulta, sem dúvida nenhuma, que esta criação artística de metáforas que marca em nós a origem de toda percepção pressupõe já aquelas formas nas quais, por via de conseqüência, ela se efetua. É apenas a persistência invariável dessas formas originais que explica a possibilidade que permite assim construir um edifício conceitual apoiado novamente sobre as próprias metáforas. Este edifício é com efeito uma réplica das relações de tempo, espaço e número, reconstruído sobre a base das metáforas.
2
Como vimos, na elaboração dos conceitos trabalha originariamente a linguagem e depois a ciência. Como a abelha que constrói os alvéolos de sua colméia e logo os preenche com mel, a ciência trabalha incansavelmente no seu grande columbário de conceitos que é o cemitério das intuições, constrói ininterruptamente novos e mais elevados estágios, escora, limpa e renova os velhos compartimentos e se esforça sobretudo para preencher este colossal andaime até a desmedida e para fazer entrar e arrumar aí a totalidade do mundo empírico, isto é, o mundo antropomórfico. Enquanto o homem de ação chega a ligar sua existência à razão e a seus conceitos, a fim de não se ver arrastado e não se perder, o pesquisador constrói o seu tugúrio ao pé da torre da ciência para buscar auxílio no seu trabalho e encontrar proteção sob o baluarte já edificado. Ele tem necessidade de fato de proteção, pois há poderes terríveis que o ameaçam constantemente e que opõem à verdade científica verdades de um tipo totalmente diferente, com os sinais mais diversos.
Esse instinto que compele à criação de metáforas, esse instinto fundamental do homem do qual não podemos prescindir um só instante, pois assim fazendo não levaríamos em conta o homem mesmo, esse instinto não está submetido à verdade, apenas encontra-se disciplinado na medida em que, a partir de produções evanescentes, como são os conceitos, edificou-se um novo mundo regular e resistente que se ergue diante dele como uma fortaleza. Ele procura um novo domínio e um outro canal para a sua atividade, e os encontra no mito e de maneira geral na arte. Embaralha continuamente as rubricas e os escaninhos dos conceitos ao estabelecer novas transposições, novas metáforas e novas metonímias; continuamente manifesta o seu desejo de dar ao mundo, tal como este é aos olhos do homem acordado, tão diverso, irregular, vão, incoerente, uma forma sempre nova e cheia de encanto, semelhante a do mundo onírico. Em si, o homem acordado não tem consciência do seu estado de vigília senão graças à trama dos conceitos, e por esta razão chega mesmo a crer que sonha quando a arte despedaçou esta trama dos conceitos. Pascal tem razão quando afirma que, se tivermos o mesmo sonho toda noite, ficaríamos preocupados com ele, assim como o fazemos com as coisas que vemos durante o dia: “Se um artesão estivesse certo de sonhar toda noite, durante doze horas plenas, que era um rei, creio, diz Pascal, que ele seria quase tão feliz quanto um rei que toda noite sonhasse durante doze horas que era um artesão” . Graças ao milagre que se produz continuamente, assim como o concebe o mito, o estado de vigília de um povo estimulado pelo mito, por exemplo os antigos gregos, é de fato mais parecido com o sonho do que o mundo acordado do pensador desiludido pela ciência. Já que qualquer árvore pode falar como uma ninfa, ou quando, sob a máscara de um touro, um rei pode raptar virgens, quando se é posto subitamente a contemplar a própria deusa Atena em companhia de Pisístrato atravessando o mercado de Atenas em sua bela parelha — e é isso que o ateniense honrado acredita ver — tudo se torna possível desde esse instante, como num sonho, e toda a natureza cerca o homem com uma ronda prodigiosa, como se fosse uma mascarada dos deuses a brincar de enganar os homens através de todas as formas das coisas.
Mas o próprio homem tem uma invencível tendência para se deixar enganar e fica como que enfeitiçado de felicidade quando o rapsodo lhe recita, como se fossem verdades, os contos épicos, ou quando um ator desempenhando o papel de um rei se mostra mais nobre no palco do que um rei na realidade. O intelecto, esse mestre da dissimulação, está aí tão livre e dispensado do trabalho de escravo que ordinariamente executou durante tanto tempo, que pode agora enganar sem trazer prejuízo; ele festeja então suas saturnais e não é mais exuberante, mais rico, mais soberbo, mais lesto e mais ambicioso senão aí. Com um prazer de criador, lança as metáforas desordenadamente e desloca os limites da abstração a tal ponto, que pode designar o rio como o caminho que leva o homem aonde ele geralmente vai. Ele está livre então do sinal da servidão: empenhado habitualmente na sombria tarefa de indicar a um pobre indivíduo que aspira a existência o caminho e os meios de alcançá-lo, extorquindo para o seu senhor a presa e o produto do saque, ele agora tornou-se o senhor e pode então apagar do rosto a expressão da indigência. Tudo o que faz daí por diante, comparado com a maneira como agia antes, envolve a dissimulação, assim como o que fazia antes envolvia a distorção. Ele imita a vida do homem, mas a toma por uma boa coisa e parece estar com isso verdadeiramente satisfeito. Esta armadura e este chão gigantesco dos conceitos, aos quais o homem necessitado se agarra durante a vida para assim se salvar, não é para o intelecto liberado senão um andaime e um joguete para suas obras de arte mais audaciosas; e quando ele o quebra, o parte em pedaços e o reconstrói juntando ironicamente as peças mais disparatadas e separando as peças que se encaixam melhor, isto revela que ele não precisa mais daquele expediente da indigência e que não se encontra mais guiado pelos conceitos, mas pelas intuições. Nenhum caminho regular leva dessas intuições ao país dos esquemas fantasmagóricos, ao país das abstrações: para aquelas, a palavra ainda não foi forjada; o homem fica mudo quando as vê, ou só fala por metáforas proibidas e por encadeamentos conceituais até então inauditos, para responder de maneira criativa, pelo menos pelo escárnio e pela destruição das velhas barreiras conceituais, a impressão que dá o poder da intuição atual.
Houve épocas em que o homem racional e o homem intuitivo conviviam lado a lado, um com medo da intuição, o outro desprezando a abstração, sendo este último tão irracional quanto o primeiro era insensível com relação à arte. Ambos desejavam dominar a vida: o primeiro sabendo responder às necessidades mais imperiosas através da previsão, da engenhosidade e da regularidade; o outro, o “herói transbordante de alegria”, vendo nessas mesmas necessidades e admitindo unicamente como real a vida disfarçada sob a aparência e a beleza. Lá onde o homem intuitivo, um pouco como na Grécia antiga, aplica seus golpes com mais força e eficácia do que seu adversário, uma civilização pode surgir sob auspícios favoráveis e a dominação da arte sobre a vida pode aí se estabelecer. Tal dissimulação, tal recusa da indigência, tal brilho das intuições metafóricas e sobretudo tal imediatidade da ilusão acompanham todas as manifestações de uma existência. Nem a casa, nem o passo, nem a roupa, nem o cântaro de argila revelam qual foi a necessidade que os criou: parece como se em todos eles devesse exprimir-se uma felicidade sublime e uma serenidade olímpica, como que num jogo levado a sério. Enquanto o homem orientado pelos conceitos e pelas abstrações somente os utiliza para se proteger da infelicidade, sem retirar dessas abstrações, para seu proveito próprio, qualquer felicidade, enquanto ele se esforça para se libertar o máximo possível desses sofrimentos, o homem intuitivo, estabelecido no seio de uma civilização, retira, como fruto de suas intuições, além da proteção contra a infelicidade, uma clarificação, um desabrochar e uma redenção transbordantes. É verdade que ele sofre mais violentamente quando sofre e sofre mesmo mais freqüentemente porque não sabe tirar lição da experiência e por isso cai sempre novamente na mesma vala em que já caíra antes. Portanto, é tão desarrazoado no sofrimento quanto na felicidade; grita sem obter qualquer consolação. Como é diferente, no meio de um destino também funesto, a atitude do homem estóico, instruído pela experiência e senhor de si graças aos conceitos! Aquele que ordinariamente só busca a sinceridade e a verdade só procura livrar-se da ilusão e proteger-se contra surpresas enfeitiçadas; aquele que experimenta na infelicidade a obra-prima da dissimulação, tal como o homem intuitivo na felicidade, este não tem mais o rosto humano sobressaltado e transtornado, mas leva uma espécie de máscara de admirável simetria de traços; não grita e não altera a voz. Quando uma boa chuva cai sobre ele, ele se envolve com o seu manto e se distancia com passos lentos sob a chuva.


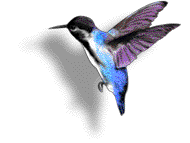



Nenhum comentário:
Postar um comentário